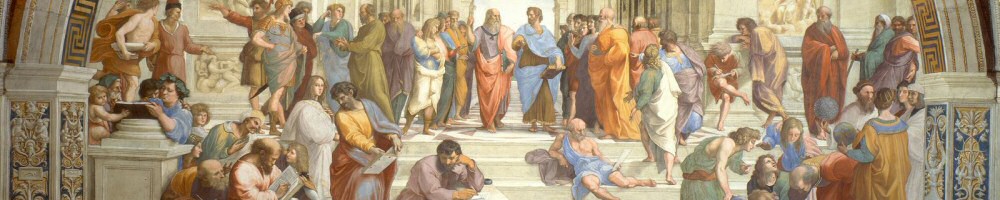Cumpriu-se hoje, a destempo, um dos rituais do ciclo político da Educação portuguesa: a publicação, com a devida pompa e circunstância, do relatório do CNE sobre o que consideram ser o “Estado da Educação”. A destempo, porque costuma surgir no final do ano seguinte àquele a que se reporta. Mas este, em vez de aparecer em Novembro ou Dezembro de 2023, surge agora, no final de Fevereiro de 2024. Que se terá passado? Serão efeitos à la longue de uma pandemia com as costas largas? Algum dos colaboradores-opinadores que se atrasou com a prosa encomendada? As estatísticas demoraram a sair do forno? Não sabemos, e os doutores também não sentiram a necessidade de explicar o atraso.
Quanto aos pontos em destaque, o que mais se evidencia é a sanha com que o relatório do CNE se atira ao 2.º ciclo do ensino básico, cuja integração num primeiro ciclo longo, de seis anos, propõe insistentemente. A ideia não é nova – já em 2018 Brederode Santos viera com a mesma conversa – mas não deixa de ser curioso que já não se ande a bramar contra a “cultura de retenção” ou o abstencionismo docente nem a erguer bandeiras pela “inclusão” ou a “avaliação pedagógica”. Agora, o “enclave” formado por um ciclo alegadamente sem identidade própria, ao arrepio do que é a organização escolar na generalidade dos países, tornou-se o grande problema do sistema educativo português, a precisar de debate e resolução urgentes…
À Renascença, Domingos Fernandes defende que esta é uma transição que não se justifica e admite avançar com uma recomendação neste sentido ao governo que sair das eleições legislativas de 10 de março.
“Temos todos os dados que nos indicam que o segundo ciclo não faz sentido. Não há qualquer justificação para que os meninos e as meninas tenham uma transição desta dimensão do 4.º ano para o 5.º ano. Quer dizer, as crianças têm um professor e depois passam a ter 13 ou 12 professores. É uma transição que não se vê em nenhum país da Europa”, defende.
O relatório caracteriza ainda uma realidade dramática: a classe docente está a envelhecer a um ritmo vertiginoso e já mais de metade dos professores apresenta 50 ou mais anos de idade. Destes, quase 30% tem mais de 60 anos, ou seja, mais de 35 mil professores estão próximos da idade de aposentação.
Este execrável hábito dos decisores políticos, bastante notória na área do PS, de falsear e exagerar a realidade para abrir terreno à implantação das suas políticas descredibiliza-os sempre perante os professores no terreno. Na verdade, nem o 1.º ciclo é monodocência pura – a partir do 3.º ano há o Inglês obrigatório, existem docentes ou técnicos especializados a trabalhar nas AEC, há docentes de apoio educativo e, opcionalmente, de EMRC – nem o 2.º ciclo tem tantas disciplinas como o número de docentes que o presidente do CNE alega. E é até muito frequente, quando é possível e se vislumbram vantagens pedagógicas, o mesmo professor leccionar mais do que uma disciplina, pois está habilitado para tal: o professor de HGP ou Inglês dar as aulas de Português, ou disciplinas como Matemática e Ciências ou Educação Visual e Tecnológica, serem leccionadas pelo mesmo docente.
Quanto ao imenso choque que esta transição de ciclo alegadamente causará aos alunos, isso cai mais no domínio da análise subjectiva de estados de alma do que na realidade demonstrável: se formos analisar dados de insucesso escolar verificamos que este tende a ser mais elevado na transição do 2.º para o 3.º ano ou do 7.º para o 8.º do que aquele que se regista no 5.º ano.
Ainda assim, não custa admitir a existência de vantagens pedagógicas numa maior articulação entre os dois primeiros ciclos do básico, com ou sem fusão num único ciclo, eventualmente possibilitando uma evolução mais gradual da monodocência para a pluridocência. O que incomoda é sentir que estes apelos têm mais motivações políticas ou administrativas do que pedagógicas. Ou que estará mais em causa resolver problemas muito específicos, como o sobredimensionamento dos centros escolares que andaram a ser construídos ao desbarato nas últimas décadas, mantendo por lá os alunos mais dois anos.
Relativamente aos outros níveis de ensino, é de notar o contorcionismo que é feito para lamentar que menos de 40% dos jovens optem pelos cursos profissionais no secundário, preferindo os gerais, orientados para o prosseguimento de estudos, quando logo a seguir se defende o aumento da escolarização superior, sendo que presentemente a maioria dos estudantes que terminam o 12.º ano já segue para a frequência de cursos superiores.
Noutra linha, não deixa de ter a sua piada o dramatismo que é feito em torno do envelhecimento da classe docente, apresentado como se fosse uma realidade súbita e imprevisível. Quando bastaria – e foi feito inúmeras vezes, até pelos serviços ministeriais – olhar a estrutura etária da classe docente para perceber o que aconteceria inevitavelmente se não fossem tomadas, em devido tempo, medidas para rejuvenescer a profissão.
No resto, o documento, extenso e palavroso, ergue-se como uma muralha em torno das políticas educativas dos últimos oito anos, enaltecendo-as e justificando-as com escasso pudor e quase total ausência de sentido crítico. Numa primeira leitura, são as constantes referências ao PASEO e às aprendizagens essenciais, autonomias, flexibilidades e inclusões que se destacam, escamoteando a realidade insofismável: os alunos aprendem menos, o sistema educativo resvala num clima de facilitismo e condescendência que só não é evidente ao nível dos resultados porque também aí as “medidas de suporte” fazem o seu trabalho. Perante o descalabro, questionar as políticas que conduziram ao desastre e equacionar alternativas era o que deveria estar no centro das preocupações de um órgão supostamente crítico e reflexivo das políticas educativas. Mas que, povoado de boys and girls socialistas, continua a comportar-se como a câmara corporativa do situacionismo educativo.